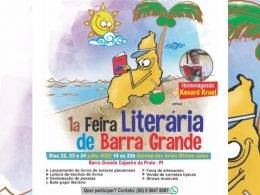Hoje Teresina está de aniversário e é comum dizerem-se coisas sobre a cidade, em geral declarações de amor, quase sempre falsas. Prosa e versalhada deixam ouvidos aturdidos. Livros, impressos com dinheiro público ou não, jornais, programas de rádio e de tv, redes sociais deitam falação. Há muito tempo é assim. Felizmente, há poetas e cronistas – poucos – que não embarcam na laudação. Um dos que se salvam é Paulo José Cunha. Publicou Perfume de Resedá, em maio de 2009.
Não é exatamente um livro sobre Teresina, mas termina sendo, porque muitas memórias da infância do autor têm origem nesta cidade. Quando se fala da infância é difícil não ser saudosista. Mas um poeta não deve ser piegas. Por isso, ao iniciar Perfume de Resedá, Paulo José Cunha diz algo fundamental: suas lembranças são profundas: sal, em vez de açúcar.
vem lá do fundo
fundo
do mais profundo
do oco do mundo
o sal desta lembrança.
Ele é um dos meninos da Pacatuba, como foi o outro, que ressoa neste livro, como tantos reverberam, anônimos. Se há meninos, há brincadeiras de um tempo, de uma cidade que não existem mais, ou melhor, existem na memória, como afirmou um dia o poeta Carvalho Neto em relação à Amarante. Se são um tempo e uma cidade que não mais existem, por que insiste o poeta em evocá-los?
Porque a literatura e a poesia são mais reconstrução que construção. Essa reconstrução é muito pessoal e muito estranha. O poeta sabe que “daqui a um tempo só restará o vento / a levantar a poeira dos escombros”, e é possível que não haverá
quem deponha a favor do menino
quando ele renascer da memória das grotas
das frinchas das pedras
entre tijubinas e anuns
e sair contando pelas ruas sem eco
desesperado como um bêbado.
Resedá é um perfume suave das flores do mesmo nome, mas isso não significa dizer que o poema também o seja. Ou melhor, Perfume de Resedá é suave nos momentos em que precisa ser, eis que o menino não é de aço, e o poeta, adulto, também não. Mas é também um “poema sujo”, que faz da sordidez e da ignorância humanas a sua matéria, como as do prefeito que derrubou a palmeira que morava no meio da rua. Como a dos homens de bem com o mal que mandaram incendiar os casebres da cidade inventada, dolorosamente real para os pobres:
miseráveis mal-agradecidos
(não entendiam a função profilática do fogo
ateado pelas digníssimas autoridades
a bem de espantar o fedor de sua miséria
e eliminar das vistas a imagem das choupanas de palha
incompatíveis com a elegância dos sobrados da nova
capital
inventada pelo conselheiro).
Na acepção da palavra, cidadão é o habitante da cidade, aquele que participa da vida administrativa e política, interferindo no seu destino. Sabemos que isso é teoria e aqui outro galo cantaria. A narrativa grega, que ainda hoje serve de apologia para o Ocidente desorientado, não convoca mulheres, escravos, párias, estrangeiros. A cidade é para alguns. Os outros, se quiserem, vão para a periferia, que não é só geográfica. Liberdade e amor são paradoxos:
ali
as putas se entregavam
livres
despudoradamente livres
em risadas devassas e belas
pelos desvãos da noite.
O avô do poeta ajudou a montar a usina que comia lenha, cuspia fumaça, alumiava as casas (de poucos) e roncava três vezes por dia, como um animal faminto, até o dia em que se calou para que se desse início a uma nova era:
o urro da usina ferida ganhou a noite
entrou pelas casas
entranhou-se nos guardados das gavetas
enfurnou-se nos baús
e foi morrendo
exausto
até
extinguir-se
de todo.
As lembranças vão se desfiando em um fluxo contínuo, onde não há hierarquias. Vão surgindo no desenrolar de um novelo de fatos, homens, mulheres, lugares, doidos, meninos, “todos apagados / da memória da cidade / a uma lufada de tempo”. O poeta assume a função do homem que amassa o barro das horas e reconstitui o tempo perdido pela devoração, mesmo reconhecendo “não dispor de ouro de maior valia”.

Os feitos e os defeitos de uma cidade compõem o gênero épico, que aparece aqui transfigurado pelo lirismo calcado nas lembranças do menino que não quer morrer, que nunca vai morrer, embora não possa mais olhar o rio como antes:
não se debruçam mais
meus olhos
no parapeito da ponte
sobre a correnteza do rio.
O poeta aprendeu com seu primo a comer manga com sal, o mesmo sal destas palavras, mas também que um poeta não se faz só com versos, “até aprender / que um poeta não se faz / de mil suspiros / de um quintal de passarinhos / de um soneto engraçadinho / mas com tiros de canhão.” Para onde estão mirados os canhões de Perfume de Resedá?
Estão nos homens sérios e nas mulheres de mantilha, isto é, a classe dominante da Chapada do Corisco, católica, devotada ao progresso, que vai ao campo de aviação adorar o deus de metal descido do céu, o Caravelle, “imponente como um cisne”. Estão nos retirantes sem futuro, tangidos pela seca, amontoados na praça que leva o nome de Saraiva, sob as bênçãos de Nossa Senhora das Dores:
não havia poesia
no cheiro de merda e mijo
dos imigrantes que roubavam a paz dos sobradões
e não serviam ao sossego dos cidadãos de bem
por isso eram expulsos a cassetete
para os longes da tabuleta
onde miséria fome e choro
não incomodassem
as pessoas de família
e eles pudessem receber
(a prudente distância)
os donativos entregues pelas mãos caridosas
das senhoras de nossa mais fina sociedade
Estão na melhor sociedade, que “sabia” qual era o lugar de negro:
minha avó falava de alguns nobres
reis e rainhas
d’angola congo e guiné
que racharam os pés nas pedras da piçarra
enchendo ancoretas d’água
cortando lenha
ou transportando no ombro
o fedor nauseabundo das quimoas
(vez ou outra a madeira das quimoas
apodrecia
e derramava na cabeça dos príncipes d’áfrica
o mijo e a merda
de nossa melhor sociedade
Não é tarefa fácil cantar a cidade. O que o poeta faz em Perfume de Resedá é cantar o tempo em que existia um menino e outra cidade, tão fugidia e poética no território da memória que lembra um pássaro a se confundir com a cidade e o menino restituídos:
e é por amor a este tempo
que solto meu canto
sobre a cidade-pássara
Uma cidade cheia de cheiros da província, das ruas tomadas por bogarins, resedás, jasmins, copo-de-leite, damas da noite, broas assadas no forno de barro da avó e “em tudo e por todos os cantos da memória / o cheiro de gente / o cheiro bom de gente”, no tempo em que o mal também usava disfarces.
o cheiro dos charutos de seu joão
o cheiro forte das velhas cachimbeiras
e o cheiro da cachaça entranhada
no balcão da bodega de seu zeca.
O menino também perambula no fundo do sertão, onde captura belezas de rosas graciliânicas e a opressão justaposta na fartura. O gemido da moenda era também da dor que o adulto traduziu mais tarde em forma de denúncia:
nos tachos de cobre
o doce do mel de cana
e as rapaduras
iam enchendo os surrões e os séculos
e os surrões e os séculos transbordavam
de miséria e latifúndio.
Do rio da memória saltam peixes de todo tamanho e variedade, revisitados agora por leitores que usam a alegoria do número 171 para celebrar, de viés, o aniversário de Teresina. A ferrugem come os grandes feitos das placas de bronze. Ficam o cheiro bom de gente, os dias dos banhos de chuva e o poeta dizendo sem medo ou susto:
eis aqui o menino
que veio cobrar
o direito de pisar
as pedras da rua da estrela
que o asfalto engoliu.
Gostou da coluna de hoje sobre Perfume de Resedá? Leia os demais textos de Rogério Newton que temos aqui na Geleia ou você pode segui-lo no Instagram (@rogerio.newton.1). Quer Sugerir pautas? Manda a sua sugestão para: redacao.geleiatotal@gmail.com





 Terê Jam na Ponte Estaiada
Terê Jam na Ponte Estaiada