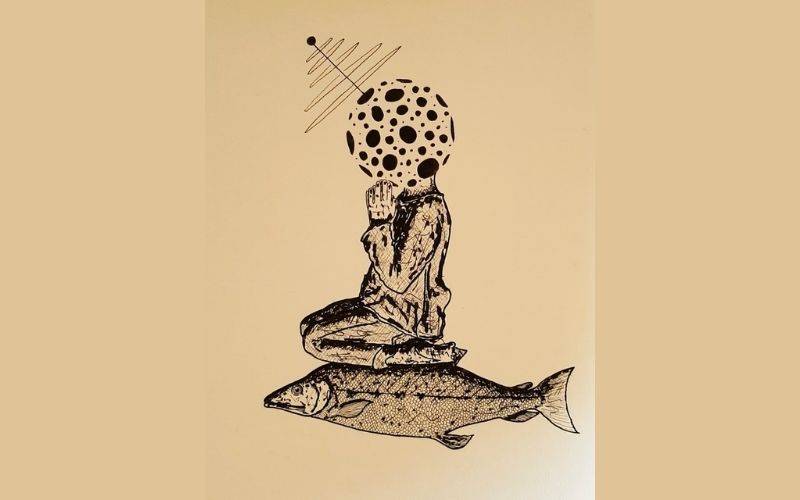Final de semana. 17 horas. O sol poente caindo dourado no horizonte, enquanto o Poti e o Parnaíba fluem numa conjunção silenciosa. É um sexo constante, rodeado pelas matas em redor e cantado pelas aves dançantes. É o encontro das águas. O confronto dos polos de tudo o que existe nessa cidade. Um ótimo lugar de reflexão da vida. A dialética dessa terra.
A zona norte de Teresina é uma região mítico-mística muito rica e, confesso, é muito especial imergir nesse cenário com certa atitude consciente.
Tudo começa pela Avenida Maranhão, um corredor arborizado que direciona para aquele mundo de oleiros, pretos velhos, rezadeiras e benzeduras, esculturas e vasos de barro. Ao lado, nesse percurso, o Velho Monge vai te acompanhar e é uma mistura de cheiros, cores, texturas e sons. Tudo temperado por aquele sol que abandona a velha Teresa todo dia, ao sumir por aquela ponte velha, lá em Timon.
E essa descida, essa passagem, para esse mundo sobrenatural, desemboca numa grande escultura, que fascina e enraivece a muitas pessoas: o monumento do Cabeça-de-cuia, que fica na Avenida Boa Esperança.
A figura é imponente, está em atitude expansiva. Há nuances de perturbação em sua mímica facial, tem postura rígida e olhar vazio.
Como psicólogo, percebo um certo desamparo e solidão. Na sua mão direita encontra-se o grande osso, arma de seu matricídio; na esquerda segura uma espécie de cajado – uma haste-, em que o monstro se apoia.
Em redor, num giro de 360 graus, vê-se as figuras – menores – das sete marias. Elas lembram muito as figuras das ninfas gregas, em posições eróticas e suplicantes.
É domingo, final de tarde. O dourado do sol, que morre, impregna minha alma enquanto escuto e converso, tecendo os enredos da semana que passou, ali naquele lugar mágico de minha cidade.
Tem algo naquele solo, naquela imersão mística, que me suga, que me assenta e me conecta, em franca situação de ensino do que ainda não sei. E eu aprendo. Ao menos, tento ler o céu, as matas, as aves. Ao menos, eu contemplo o suave sussurro do velho e constante sexo daqueles rios.
Enquanto tomo um gole de cerveja gelada, trincando, naquele típico copo americano que nossas matriarcas todas têm em casa, lembro-me de um sonho – noturno – e sem imagens, que tive há alguns dias. Era uma querela onírica de que não me lembro muito, mas é de alguém chegar ao pé do meu ouvido e sussurrar: “o oráculo de crispim”.
Oráculo? Crispim? Isso muito me instiga como analista que sou. Trabalho com a arqueologia da alma. Minha atividade é ajudar no sofrimento psíquico-existencial, desvelando os oráculos da alma de – e junto com – alguém. Tudo guardado pelo mais absoluto e sagrado sigilo de que a análise precisa.
Enquanto degusto a gelada cerveja que Seu Antônio (ou seria José?) me serve no calor, nada húmido, de final de tarde por aquelas bandas, percebo que sou uma síntese de tudo aquilo: do rio, da terra, do sol, do líquido inebriante gelado, das palavras, das marias, dos crispins.
Me deparo em mim mesmo me perguntando: que oráculo é esse? O que Teresina fala sobre mim? O que seu monstro oficial me revela?
Sei que muitos não gostam da lenda e até questionam sua eficácia no ensino de crianças. Muitos, de maneira muito honesta, problematizam seus valores. Mas, o que não se percebe, talvez, é que essa história revela uma realidade psíquica, simbólica, um oráculo, muito interessante de se olhar (não de se concordar, perceba).
Esse é um conto inapagável. É uma história violenta, sem dúvida, mas potente em suas lições.
Tomo mais um gole de cerveja. Interajo. Falo algumas coisas sobre uns planos de viagens, compartilho e construo sonhos. Dou minha contribuição no diálogo, mas logo sou puxado mais uma vez para os fundos do meu ser. Nele paira Crispim, as Marias, sua velha mãe.
Numa espécie de espiral, esses fantasmas me questionam, em uníssono, como poderia ajudá-los.
Volto mais uma vez à superfície. Tomo dois goles de cerveja que descem rasgando a goela. Logo falo, pigarreando, sobre o preço de passagens de avião e mergulho novamente em mim.
E se eu pudesse sentar-me com Crispim? Se ele batesse à porta do meu consultório? Se ele me fosse encaminhado pelo poder judiciário, por algum juiz, para auxiliar o processo em curso de seu matricídio, com uma perícia psicológica? Eis um oráculo para mim aqui dentro de mim.
Sei que a versão popular é uma história sobre abandono, lembro-me agora das histórias da professora Jesus, ainda na primeira série. Minha avó preta outrora me dizia, nas contações antes do sono da tarde, que ele e sua mãe não eram assistidos por ninguém, nem pelo Estado. Ninguém na sociedade ajudava o velho Crispim e sua pobre mãe.
Logo, avento a hipótese (não posso afirmar) que Crispim é um filho abandonado pelo pai, que sua mãe – como muitas de nossas mães – são relegadas ao lugar da ninguendade, do esquecimento.
Quero ir a fundo nessa história com Crispim (a versão de vovó): quero saber de seus valores relacionados ao pai. Temo por sua mãe. Em imaginação, tento desenhá-la em minha mente. O que ela representa para o pescador à minha frente? Escuto com atenção a fala do homem, que mexe nos dentes com um pedaço de palito.
Me parece, aqui dentro de mim, que Crispim fala de forma compassada, baixa e numa dicção quase “embolada”. Ele é um homem tímido, não demonstra sentimentos; cheira a fumo e a rio.
Enquanto saio dessa minha projeção da figura mítica, peço mais uma cerveja. Volto à conversa anterior e cito um amigo em comum, falo de uma notícia do jornal sobre a violência em Teresina, me angustio pela pandemia – exponho isso – e lembro de Crispim mais uma vez. Volto-me para ele.
Agora sou eu a questioná-lo.
Pergunto-lhe: de maneira similar aos sonhos – noturnos – que temos, qual situação consciente da vida das pessoas é compensada por seu mito, por sua história, por sua tragédia.
O homem, em minha imaginação regada pela cerveja, aponta com seu cajado para frente em silêncio e me diz que sua tragédia é uma possibilidade para mim e para toda a coletividade arraigada nesta terra, os filhos de dona Teresa, que não é imperatriz, mas a lavadeira do rio Poti.
Olhando fixamente ao assassino devorador, pergunto-lhe o que posso aprender.
Ele me diz que olhando para sua história posso aprender sobre a vida.
Em quais aspectos, pergunto.
Ele ressalta, assim, que seu mito é uma lança apontada para uma cidade patriarcal, onde há o predomínio de deveres e obrigações acima de qualquer coisa. Ele aponta para um espaço existencial regido, muitas vezes e com felizes exceções, por princípios rígidos, petrificados.
Bebo o último gole de cerveja, a panela de pressão chia em algum canto daquele complexo de bares, soltando um bafo de alho pelo ar, uma espécie de dragão do anoitecer, que paira pelas sombras. Vejo que o sol já se foi e Crispim continua a me dizer que ele é a contra parte sombria de uma consciência coletiva que afaga a superfície, que prefere a “boa” imagem do que a imagem real. Que ele é a voz que não fala, silenciado, posto que não está no centro, mas na periferia, à beira do rio, onde as benesses não chegam, só as inundações.
Crispim me aponta, em pé, o seu oráculo, que é ele mesmo, seu corpo raquítico. Me mostra que seu mito fala de matarmos nossas raízes, representado por sua mãe, de maneira simbólica. De não reconhecermos a ancestralidade, de não valorizarmos – como se deve! – Dona Maria da Inglaterra e tantas mestras da cultura, por exemplo, de maneira justa e digna.
Crispim, em quase choro, fala de uma cidade que se devora a si. Que traga suas marias, estuprando-as, usando-as, objetificando-as, prendendo-as, sufocando-as, esfaqueando-as, esmurrando-as. Uma cidade que devora suas anciãs e suas moças. Seus talentos e energias criativas. Execução do velho e do novo, da tradição e da inovação, a um só tempo.
Basta olhar para os prédios históricos. Teresina, com seu osso, quebra tudo. Eis um suicídio. Autodestruição.
O oráculo desse velho pescador aponta, a partir do encontro dos rios, para uma atitude coletiva que não enxerga as minorias, por exemplo: as tantas marias, franciscas, lúcias e lucianas que lutam para não serem tragadas e caírem no esquecimento, na morte real e concreta, delas e dos seus, enquanto perdem seus jardins e terraços.
Ele me diz que seu oráculo, seu mito, é sobre as tragédias dessa mesopotâmia tão linda e cheia de riqueza, mas, em alguns aspectos, tão inconsciente de suas raízes e potências.
De cócoras, cospe no chão, coça a nuca com seus dedos ásperos e, sorrindo constrangido, me diz que matamos nossas mães, nossas mais velhas, desde que os bandeirantes chegaram aqui, e devoramos nossas marias-de-hoje-em-dia.
Retorno, constrangido, dessa conversa, mas ressuscitado. Trago à memória o título do livro do Alex Sampaio, Ressuscito na Cidade Suicida. Me pergunto se este autor encontrou Crispim alguma vez.
Bebo o último copo da cerveja, que já não está mais tão gelado. Seu José (ou Antônio) oferece mais uma garrafa, recusamos. Pagamos a conta e nos levantamos.
Ao caminhar para o carro, que está estacionado no acostamento, vejo o monumento. A figura desamparada de um assassino, figuras femininas em redor, um osso.
A ausência de sua mãe, daquilo que é antigo, histórico. Uma ausência que grita, aniquilada.
Percebo que ali se encontra uma espécie de esfinge da Cidade de Teresina, um enigma de nossas tragédias diárias e históricas que só o mito, o conto folclórico, pode sintetizar, a nível simbólico. Vejo, assim, que esse “Oráculo de Crispim”, não pode ser apagado – em nome da justiça e de nossa saúde emocional e social-cultural, pois o mito aponta para além dele mesmo, para uma transcendência e ampliação desse drama em nós e entre nós, temos que admitir.
Caminho pelo acostamento, bexiga cheia e vejo a lua nova sobre o Parnaíba enlaçado ao Poti. Do lado direito vem um homem, o “flanelinha”.
Ele guardou nosso carro. Em gratidão, e respeito, entrego-lhe uma nota. Ele agradece. Olho-lhe o rosto e vejo que é Crispim. Ela pisca o olho para mim. Vai à beira do rio, desce o terreno íngreme e despe-se de sua roupa e daquele colete verde neon. E pula na água e some.
É fim de dia, domingo à noite, enquanto o Poti e o Parnaíba ainda fluem numa conjunção silenciosa a serviço restrito do tempo. É um sexo constante, rodeado pelas matas em redor e silenciado pelas aves, agora recolhidas em seus galhos.